Retrocesso: a regulamentação do BR do Mar é uma guinada protecionista à política de cabotagem

Por trás do decreto que regulamenta o Programa BR do Mar, assinado em 16 de julho de 2025, não está apenas uma decisão administrativa: está o símbolo de uma mudança profunda na forma como o governo Lula pretende conduzir a política de transportes marítimos no Brasil. A promessa de modernizar o setor e ampliar a cabotagem — transporte entre portos nacionais — ganha agora contornos de um projeto de reindustrialização ancorado em protecionismo produtivo e forte presença do Estado. A legislação, aprovada em 2022 sob o governo Bolsonaro, caminhava em direção oposta: redução de burocracias, abertura a empresas estrangeiras e estímulo à concorrência. O decreto atual muda essa rota — ou a corrige, dependendo da ótica. Sob a justificativa de “soberania logística” e defesa da indústria naval nacional, o governo estabelece exigências que tornam mais difícil e custoso o ingresso de novos operadores. A obrigatoriedade de comprovação de capacidade operacional, critérios rigorosos de sustentabilidade e contrapartidas industriais são pontos que, embora bem-intencionados, representam uma mudança de filosofia: do liberalismo regulado para o intervencionismo estratégico. Do ponto de vista ambiental, o decreto tenta equilibrar discurso e prática. A lei original já previa estímulos a embarcações mais eficientes, com menor emissão de poluentes, mas sem detalhar critérios. O decreto, por sua vez, impõe agora exigências específicas de sustentabilidade operacional para o uso de embarcações estrangeiras — o que inclui, por exemplo, comprovação de eficiência energética e práticas de mitigação de impacto ambiental. Trata-se de uma tentativa de alinhar o BR do Mar às metas climáticas e à chamada “transição ecológica“, bandeira que o governo Lula vem promovendo internacionalmente. No entanto, na prática, tais exigências podem restringir o mercado apenas a grandes players com capital suficiente para cumprir as normas. Ao impor novas exigências e barreiras à entrada de operadores estrangeiros, o decreto pode limitar esse potencial no curto prazo, beneficiando empresas já estabelecidas — como a Log-In e a Aliança Navegação —, que detêm parte significativa da frota e estrutura portuária. Ao mesmo tempo, a concentração de mercado pode manter os custos em patamares mais elevados do que o desejável, contrariando justamente o objetivo inicial da lei de 2022: tornar o frete marítimo uma alternativa mais acessível e competitiva para todo o setor produtivo nacional. Do ponto de vista econômico, a ampliação da cabotagem sempre foi vista como uma das soluções mais viáveis para reduzir o custo logístico no Brasil, país de dimensões continentais e com infraestrutura rodoviária sobrecarregada. Estudos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) apontam que o transporte por cabotagem pode ser até 30% mais barato do que o rodoviário em médias e longas distâncias, especialmente em rotas acima de 1.000 km. Essa economia impacta diretamente o produtor final: com fretes mais acessíveis, há margem para redução de preços de alimentos, bens de consumo e insumos industriais, além de maior previsibilidade nas entregas. A oposição acusa o governo de travar um setor que vinha dando sinais de crescimento com a abertura trazida pela lei de 2022. Para críticos como o deputado federal Felipe Rigoni (União-ES), o novo decreto “mata na raiz” a vocação da cabotagem para reduzir custos logísticos e tirar caminhões das estradas — uma das promessas originais do programa. Já entidades ligadas à indústria naval e sindicatos marítimos celebram a medida como um resgate da produção nacional e da geração de empregos em estaleiros brasileiros. O debate de fundo, no entanto, vai além da polarização. Trata-se de um dilema recorrente em países em desenvolvimento: abrir o mercado em nome da eficiência e crescimento ou uma suposta proteção de setores estratégicos para garantir soberania e empregos? O novo BR do Mar tenta responder apostando em um modelo de nacionalismo produtivo e ambientalismo regulatório. Resta saber se o custo dessa escolha será compensado por ganhos reais em competitividade, sustentabilidade e geração de valor para a logística nacional. Por ora, o decreto ainda exige regulamentações complementares e testes na prática. Mas o recado político já foi dado: no mar da cabotagem brasileira, o leme voltou para o Estado.
Não foi Bolsonaro quem…

Não foi Bolsonaro quem chamou Donald Trump de nazista. Não foi Bolsonaro quem xingou Elon Musk. Não foi Bolsonaro quem desafiou o dólar. Não foi Bolsonaro quem prendeu, com condenações draconianas, idosos, pais e mães de família por aglomeração e pichação de estátua. Não foi Bolsonaro quem mandou retirar contas, perfis e documentários do ar por formularem dúvidas ou críticas políticas. Não foi Bolsonaro quem abriu inquéritos obscuros e infinitos, acumulando papéis de juiz, investigador, acusador, sem nenhuma transparência para com os advogados dos alvos. Não foi Bolsonaro quem quis dar ordens secretas e ilegais a companhias estrangeiras e exigir dados de cidadãos residindo legalmente no exterior. Não foi Bolsonaro quem se colocou em posição de “cancelar” mandatos ou suspender governadores de estado subitamente. Não foi Bolsonaro quem se pavoneou para contestar as ações de EUA e Israel, saindo em defesa do Irã, tentando levar adiante uma posição impossível de paladino global da “justiça”. Não foi Bolsonaro quem não se mostrou minimamente capaz de organizar uma estrutura para manter relações diplomáticas com a nação mais poderosa do Ocidente e do mundo. Não foi Bolsonaro quem quis convidar especialistas da China para ensinar ao regime autoritário brasileiro como censurar direitinho as redes sociais. Não foi Bolsonaro quem quis recorrer ao Judiciário sempre que o Congresso e a sociedade civil não lhe concedessem a satisfação de suas vontades. Não é Bolsonaro quem está no governo do país há dois anos e sete meses. Já disse outras vezes que Bolsonaro não era um modelo de amor à liberdade de expressão – remeto ao caso em que o ministro da Justiça da época tentou processar um sujeito em Palmas que financiou outdoors comparando o então presidente da República a um pequi roído, processo que foi abortado pelo STJ. É evidente, porém, que é risível equiparar a proporcionalidade das situações. Garanto que você não tinha receio real de ser preso ou censurado, como pode ser pelo STF, por criticar Bolsonaro, e, se disser que tinha, está mentindo. Não gosto de patrulhar o que os outros falam ou deixam de falar, já que detesto que façam isso comigo, mas é exaustiva essa falta de senso de realidade e de prioridades. O Brasil vive um regime autoritário que os poderes competentes não equacionam e chafurda na lama das relações internacionais, atraindo para si as reações a que estamos assistindo, incompetentes e despreparados para lidar com elas. Os liberais existem, em primeiro lugar, para proteger as regras do jogo, para proteger a liberdade. Está claro qual é o seu inimigo hoje. Talvez você queira ficar construindo moinhos de vento em vez de apontar-lhe o dedo porque não ousa encarar as consequências. Lucas Berlaza é Diretor-Presidente do Instituto Liberal. As opiniões contidas nesta coluna não refletem necessariamente a opinião do site Danuzio News.*
Reconstruir o papel do Brasil no mundo exige tirar Lula do poder

O anúncio de sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil, com tarifas de 50% sobre todas as exportações brasileiras, marca um divisor de águas na história da política externa nacional. Mais do que uma crise econômica, trata-se de uma crise diplomática, que rompe com décadas de equilíbrio e pragmatismo característicos do Itamaraty. A diplomacia brasileira, construída sobre o respeito à multipolaridade e à neutralidade estratégica, foi substituída por um projeto ideológico que arrasta o país para um eixo geopolítico antiocidental, com custos reais e imediatos. Desde sua fundação, o Itamaraty buscou exercer um papel de equilíbrio entre as grandes potências, com o objetivo de preservar os interesses do Brasil em um mundo em constante disputa. Essa tradição não era conservadora nem progressista; era realista. Em momentos críticos da Guerra Fria, o Brasil conseguia manter relações simultâneas com os Estados Unidos e com a União Soviética, com a China e com a Europa, com países árabes e com Israel. Essa autonomia estratégica permitiu que o Brasil ganhasse protagonismo global sem antagonizar potências. Isso acabou. Ao retornar ao poder, Lula abandonou esse pragmatismo em nome de uma geopolítica ideológica. A reaproximação com ditaduras como Irã, Cuba, Venezuela, Rússia e China tornou-se prioridade. A presença do presidente brasileiro em fóruns como o BRICS — agora com expansão para regimes autoritários como Egito, Arábia Saudita e Irã — revela um projeto de mundo alternativo, em que o Brasil se afasta do Ocidente em nome de uma suposta nova ordem multipolar. Porém, ao invés de equilíbrio, o governo optou pela provocação. Lula não apenas se aproximou desses regimes, como hostilizou abertamente os Estados Unidos e seus aliados. Ao comentar as eleições norte-americanas, ironizou Trump, criticou sanções contra países “irmãos” como Cuba e questionou abertamente o papel do Ocidente na guerra da Ucrânia, chegando a culpar a OTAN pela escalada do conflito. Em relação a Israel, o governo brasileiro recusou-se a classificar o Hamas como grupo terrorista mesmo após ataques brutais contra civis, comparou as ações de defesa de Israel ao nazismo e chamou a ofensiva em Gaza de “genocídio“, adotando abertamente a retórica da propaganda do Hamas. Mais recentemente, o Brasil aderiu à ação movida pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça contra Israel, aprofundando ainda mais o distanciamento com Washington e com aliados históricos do Ocidente. A reação não tardou. O presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros como retaliação à perseguição judicial contra Jair Bolsonaro e ao alinhamento do Brasil com adversários estratégicos dos EUA. Embora o pretexto formal seja comercial, a motivação é evidentemente política. Trata-se de uma sanção camuflada, que insere o Brasil no mesmo rol de países punidos por Washington, como China, Rússia, Venezuela e Irã. O mais grave é que essa ruptura foi provocada conscientemente pelo governo brasileiro. Lula não apenas se recusou a dialogar com Trump desde sua eleição, como também impediu tentativas do Itamaraty de construir pontes com a diplomacia americana. Diferente da China, que negociou redução de tarifas; da Argentina, que buscou flexibilizações; e da Índia, que atua com inteligência pragmática, o Brasil optou pelo confronto. O resultado é um país isolado, com exportações comprometidas e sem credibilidade como interlocutor global. Não há precedente recente de um governo brasileiro que tenha intencionalmente comprometido relações comerciais em nome de alinhamento ideológico. Nem mesmo na década de 1960, em plena tensão entre Washington e Havana, o Brasil rompeu relações com um dos lados. Mesmo durante os governos militares, os diplomatas brasileiros mantiveram canais abertos com múltiplos atores internacionais. Hoje, vemos a inversão dessa lógica: o Brasil adota o discurso dos países “anti-imperialistas”, mas continua altamente dependente do comércio com o Ocidente — e agora paga por isso. Além dos danos econômicos, as sanções escancararam a falência do discurso do “protagonismo internacional” de Lula. Não há protagonismo em ser punido. Não há liderança global possível para um país que hostiliza seus maiores parceiros comerciais em nome de narrativas ideológicas importadas dos anos 60. O caso da Embraer, que perdeu um contrato bilionário com a Polônia após Lula declarar apoio a Putin e insinuar que Zelensky “é tão culpado quanto“, revela o custo direto da ideologização da política externa. Países que antes nos viam como modelo de conciliação e mediação passam a nos tratar com cautela — ou desconfiança. A União Europeia mantém congelado o acordo com o Mercosul. Os EUA nos tratam agora como um problema. E até na América Latina o Brasil perdeu influência, sendo questionado por vizinhos como Paraguai, Uruguai e Equador. O discurso do governo tenta disfarçar a crise com slogans nacionalistas: “Brasil é dos brasileiros“, “não aceitaremos imposições estrangeiras“, “soberania acima de tudo“. Mas são palavras vazias. Na prática, quem pagará o preço da bravata serão os exportadores brasileiros, os produtores rurais, a indústria e — por consequência — o consumidor. A inflação tende a subir, a confiança do investidor a cair e o dólar a disparar. O Brasil virou um pária tarifário por escolha própria. É possível discordar de Trump. Suas ações são ruins para a economia brasileira. Melhor teria sido aplicar sanções pessoais a Lula, Moraes e todos os envolvidos diretamente. Mas não se pode ignorar que o Brasil deu todos os sinais errados. Ao perseguir opositores, censurar redes sociais, controlar o Judiciário e sabotar relações diplomáticas em nome de afinidades ideológicas, Lula transformou o Brasil de parceiro confiável em alvo preferencial. Isso não é soberania — é irresponsabilidade geopolítica. Agora, fala-se em reconstrução. Mas não haverá reconstrução com os mesmos interlocutores que causaram a destruição. O próprio recuo de Lula — ao anunciar que não retribuirá as sanções americanas — é a admissão tácita de que errou em toda a condução da política externa desde o início. Uma postura arrogante e beligerante nos colocou nesse buraco. Agora, o mesmo governo que provocou o desastre pede tempo e paciência para revertê-lo? Não se corrige um erro estratégico mantendo o erro no poder. É preciso corrigir a rota — e isso começa trocando
Manda quem tem voto… corre atrás quem tem juízo

Ao longo da carreira, tive a oportunidade de participar de — poucas, que o bom Deus seja louvado — reuniões com representantes de alto escalão do poder público. Em uma dessas ocasiões, ao debater o eterno conflito entre técnica e política, um figurão foi cirúrgico: — “Nós entregamos a solução técnica“, ele disse calmamente, antes de concluir, “mas manda quem tem voto“. Anos-luz — e muitos bilhões de euros — separam uma humilde sala de prefeitura do suntuoso Berlaymont Building, onde os dignatários da Comissão Europeia dão expediente. Ainda assim, do búlgaro ao sueco, discurso semelhante já deve ter sido proferido pelos corredores em todas as 24 línguas oficiais da União Europeia (UE). Em semanas recentes, é provável que ainda mais. Na última quinta-feira (10), Ursula von der Leyen, presidente da Comissão, braço executivo da UE, sobreviveu sem dificuldades a uma moção de censura movida pela extrema-direita. A proposta teve como justificativa o “Pfizergate“, escândalo em que a dignatária alemã é acusada de beneficiar a farmacêutica Pfizer na compra de vacinas durante a pandemia do COVID-19. “Quando forças externas tentam nos desestabilizar, é nosso dever responder de acordo com nossos valores. Obrigada e vida longa à Europa“, — celebrou Ursula von der Leyen no X. Vitória de Pirro e sorriso amarelo Ainda que em nenhum momento o risco tenha sido real para von der Leyen, de todo o desenrolar até o voto — entre indiretas, acusações veladas e sabatinas públicas — era evidente a insatisfação dos aliados com as recentes mudanças de postura da Comissão em diversos temas sensíveis. “Eu sugiro à presidente que não considere a votação reconfortante. Muitos só foram contra porque a proposta partiu da extrema-direita“, Bas Eickhout, co-presidente do grupo dos Verdes, alertou. Um porta-voz do grupo Renovar Europa disse inclusive que diversos membros votariam contra “com o coração pesado“. Assumindo o cargo pela primeira vez em 2019 e reconduzida 5 anos depois, von der Leyen — previamente ministra da Defesa alemã — foi eleita em uma plataforma que prometia tornar a Europa o “primeiro continente com emissão zero até 2050“, lançando para isso um “Green Deal” nos 100 primeiros dias de gestão. Defendia também “fronteiras europeias humanizadas“, clamando por solidariedade e citando a história do refugiado sírio de 19 anos que recebera em sua própria casa, considerado por ela como “uma inspiração para todos“. O presente, porém, costuma ser o pior inimigo do passado, e o hoje da Europa foi cruel com o ontem de von der Leyen. Confrontada por mudanças significativas na opinião pública — refletida em reiterados resultados positivos para a direita e a extrema-direita a nível europeu e local —, a alemã não hesitou em se adaptar, flexibilizando sua postura em questões como sustentabilidade e imigração. Curva suave à direita Lá — tal qual cá, e deixo livre à criatividade do leitor encaixar exemplos concretos —, novos tempos pediram novos comportamentos, e a presidente acatou. E, gradativamente, afastou seu grupo, o Partido Popular Europeu (EPP), de sua base de apoio original, composta pelos grupos Socialistas e Democratas (S&D), Renovar Europa e Verdes, alinhados do centro à esquerda. Passou a contar cada vez mais com os grupos à direita para avançar suas propostas e, com isso, se viu forçada a ceder a eles campo em suas iniciativas. Em outubro de 2024, por exemplo, von der Leyen defendeu, em carta enviada aos líderes dos países-membros, a instalação de “centros de retorno” para deter imigrantes em países fora da União Europeia. Paralelamente, ventilou a criação de “centros de processamento” para que interessados protocolassem os pedidos de asilo ao bloco além de suas fronteiras, e debateu ainda a ampliação dos países considerados seguros para receber deportados. A guinada à direita ficou clara durante negociações preliminares sobre o orçamento de 2025, quando o EPP abandonou, no último momento, acordo prévio com partidos de esquerda e se aliou a grupos nacionalistas para tentar incluir dotação orçamentária para “barreiras físicas nas fronteiras externas do bloco” e “avaliar o desenvolvimento de centros de retorno“. Os debates fracassaram, e a mudança de postura gerou insatisfação interna, com um membro afirmando que “apesar de essa ter sido uma decisão do grupo, eu a considero errada“. Nas políticas climáticas, situação similar. Apesar de ser apontado pela presidente como uma de suas principais conquistas, o Green Deal não foi poupado. Abrangente, propõe reestruturar toda a economia europeia, da agricultura à indústria, de modo a compatibilizá-la com as necessidades sustentáveis de um mundo em transformação. Pressionada, porém, von der Leyen não teve opção a não ser apoiar Manfred Weber, presidente do EPP, em suas medidas de flexibilização do programa. Exigências de redução de emissões foram relaxadas, dotações foram redirecionadas e regras para empresas e indústrias foram simplesmente descartadas. Os aliados da alemã defendem que o coração do Green Deal segue intacto e afirmam que a presidente se mantém comprometida com ele. Admitem, porém, que, frente à nova realidade, ele precisa passar por “adaptações“. Em julho deste ano, o EPP novamente reafirmou sua posição, recusando dar suporte à iniciativa dos partidos de esquerda que impediria uma maior influência do grupo Patriotas da Europa sobre as discussões dos objetivos climáticos do bloco para 2040. Agora, o Patriotas, opositor expresso da agenda verde da UE, será o responsável por desenvolver a proposta e defendê-la em negociações com os países-membros. Para os Verdes, a recusa do EPP foi “escandalosa, irresponsável e imperdoável”. Amigos, amigos… votos à parte Como esperado, a mudança em 360° da Comissão Europeia, com von der Leyen no volante, não passou despercebido ou ileso pelos corredores políticos europeus. À esquerda, resignação, com o S&D resmungando que “o voto de hoje mostra claramente que o EPP prefere colaborar com a extrema-direita“. Do outro lado, comemoração e uma pitada de deboche. Enikő Győri, parlamentar do Fidesz, partido do húngaro Viktor Orban, avisou que “o EPP precisa aprender que sua única chance de corrigir os erros da política econômica europeia é ao nosso lado“. A questão é que aqui, novamente, a verdade surge de forma gritante. A democracia é um bicho curioso: suas
Investir em meio à guerra tarifária

O mundo passa por um momento difícil e posso dizer categoricamente que é só mais um momento. Assim como em outros momentos da história, em que a humanidade vivenciou diversas crises, nas quais não havia soluções claras nem rápidas, estamos testemunhando impasses e conflitos, gerados por atores poderosos que impactam toda a cadeia de suprimentos global. Estes impactos causam turbulência nos mercados e atingem significativamente os indivíduos. Sim, estamos isolando todos os outros problemas que envolvem os conflitos e vamos focar apenas na consequência que afeta o bolso do brasileiro. Uma minoria da população brasileira consegue acumular patrimônio, investindo em ativos financeiros. Em 2024, o número de investidores cresceu e chegou a 37% da população, representando uma tendência gerada pela disseminação de instituições financeiras de acesso facilitado, as fintechs, que apenas usando um aplicativo de celular, trouxeram a possibilidade de um cidadão investir seu dinheiro. Ainda há muito a se fazer na difusão do conhecimento, uma vez que do total de investidores, 68% ainda têm seu patrimônio alocado na poupança. A guerra tarifária que tomou grandes proporções a partir do governo Trump trouxe consigo uma necessidade de repensar os ativos que serão utilizados para preservar valor nos próximos meses ou até anos. As taxas propostas nas ameaças de taxação inviabilizam o envio de produtos ao exterior, o que acarreta a menor entrada de dólares, elevando o preço da moeda e, consequentemente, a inflação. Com uma inflação em alta, os produtos que consumimos encarecem e o patrimônio acumulado míngua se não estiver alocado de forma defensiva. Mas como se defender de forma efetiva das consequências geradas pela taxação? Existe uma variedade de produtos financeiros que podem salvar nossas finanças neste momento de crise. Os títulos indexados ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), por exemplo, são em geral os títulos que protegem o capital do aumento da inflação. Por ter uma taxa fixa somada ao indicador, espera-se que o rendimento do título entregue a variação do índice mais a taxa fixa informada na data de compra do título. Um cuidado que deve ser observado é a solidez da entidade que oferece o título. As empresas em geral, principalmente as exportadoras, podem sofrer perdas irreparáveis com a taxação em 50% anunciada por Trump. Logo, investir numa empresa esperando preservação do capital pode gerar frustração da expectativa e prejuízos. Neste caso, uma saída muito utilizada por investidores mais experientes é o Tesouro Direto e seus títulos indexados à inflação. Dentre a variedade de produtos que podem preservar o capital, temos duas classes mais famosas e, basicamente, igualmente perigosas. O alto risco agregado a investimentos de renda variável causa dúvidas e muitas vezes afasta investidores menos experientes e mais conservadores. Os Fundos Imobiliários (FII’s) e as Ações são os ativos que estarão nos radares dos gestores de ativos. Isto porque a imprevisibilidade acaba gerando um efeito de “debandada“, fazendo com que a crise reflita no ativo de forma mais intensa e diferente do que deveria ser o racionalmente aceitável. A imagem abaixo traz uma ideia do que seria um exemplo de comportamento divergente entre o preço dos ativos e os fundamentos que carregam, o que pode gerar grandes oportunidades. Uma outra classe de ativos que tem se destacado recentemente são as criptomoedas. O “universo paralelo” das criptos tem se mostrado resiliente, e em certos casos, antifrágil. Utilizando o conceito do mestre Nassim Taleb, o fato de um ativo não ser apenas resistente a choques, mas ganhar força com eles, é um exemplo de antifragilidade. No mundo cripto, alguns movimentos têm se parecido com a definição de Taleb. O Bitcoin tem ganhado cada vez mais força e tem sido cada vez mais adotado por governos, empresas e pessoas. Um claro exemplo de adoção da tecnologia é a recente declaração de Larry Fink, CEO da BlackRock, uma das maiores gestoras de patrimônio do mundo, dizendo que o Bitcoin é um instrumento de proteção à desvalorização cambial, o que seria o remédio perfeito para a crise que estamos prestes a enfrentar. Existe todo um ecossistema onde funcionam as criptomoedas, mas de todo ele, o Bitcoin se revela a cada dia ser o mais relevante e promissor. A ideia do artigo é trazer uma reflexão a você, gerando a semente da dúvida em relação ao consumo compulsivo, decisões financeiras pouco lucrativas ou impulsionadas por fatores culturais. Ao internalizar o conhecimento trazido neste artigo, você pode estar diante da maior virada de chave da vida, tanto em termos conceituais quanto em termos financeiros. Investir não é algo reservado a ricos, é necessário a todas as classes sociais e importantíssimo para você e para o país. Em termos econômicos globais, quanto maior a reserva de capital aplicada, melhores as condições de vida da população. Em termos individuais, quanto maior a poupança e investimento durante a vida, maiores as possibilidades e conforto no presente e no futuro. Eu sou Felipe Santos, Oficial R/2 do Exército Brasileiro, formado pela Fundação Getúlio Vargas, Universidade da Califórnia e Universidade de São Paulo, atuo no mercado financeiro desde 2008. Experiente em diversas áreas no mercado, professor de Finanças Pessoais e Investimentos da Escola de Geopolítica e Atualidades Danuzio Neto e criador da Mentoria de Investimento Ágil, ajudo pessoas a investir em apenas 30 dias com segurança e praticidade. Somente um patrimônio acumulado é capaz de proporcionar a você um futuro com conforto, segurança e liberdade. O tempo passa, comece! Siga-me no Instagram @fe_investimento_agil ou, se preferir, mande um e-mail para felipesantos@feinvestimento.com.br.
A banalização da mordaça
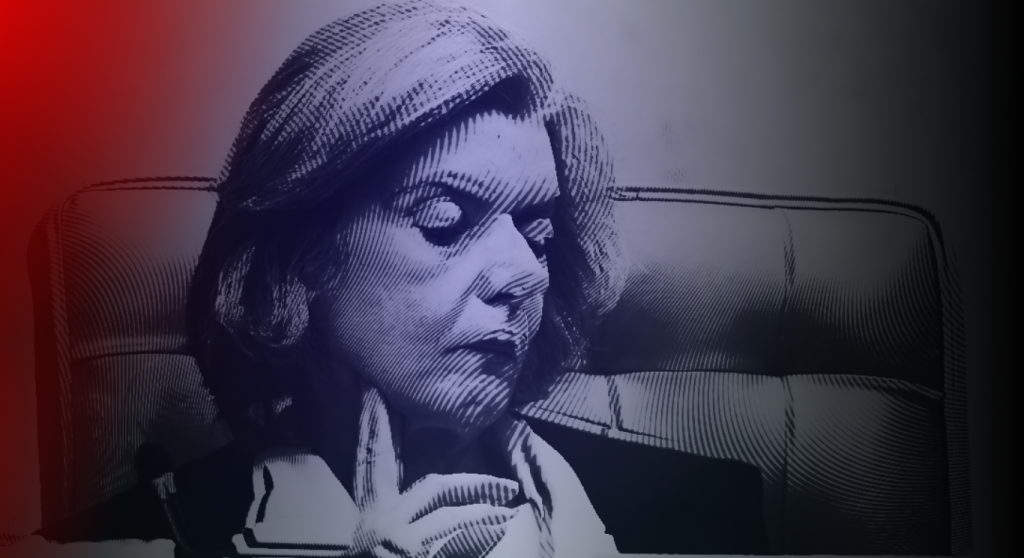
Ao acompanhar o julgamento de Eichmann, em Jerusalém, Hannah Arendt parece ter entendido a essência do que aconteceu no regime nazista, que incutiu um nível de controle tão grande na população alemã a ponto de esta passar a normalizar as ordens e orientações do partido, reproduzindo-as e naturalizando-as, sem questionar a moralidade do que estava sendo praticado. A capacidade de seres humanos cometerem atos inimagináveis pela falta de pensamento crítico ou reflexão – como era o caso de Eichmann, general alemão que facilitou o envio de cerca de 1,5 milhão de judeus aos campos de extermínio não por ódio, mas por estar apenas cumprindo ordens e seguindo as leis da época –, Hannah Arendt denominou “a banalidade do mal“. Recentemente, o Brasil acompanhou o desfecho do julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal, por interesse próprio e a mando do presidente da República, pretende “regular” as plataformas digitais, aumentando sua responsabilidade sobre o conteúdo postado por terceiros. Um dos pontos mais impressionantes do julgamento foram as falas de alguns ministros, como Cármen Lúcia – a mesma jurista que, em 2022, votou por proibir a divulgação de um documentário na internet sobre um dos candidatos à Presidência da República, reconhecendo que se tratava de censura, mas apenas até o dia subsequente ao segundo turno das eleições, para que “não haja o comprometimento da lisura, da higidez, da segurança do processo eleitoral“. Afirmou em 26 de junho de 2025, em seu voto, que “a grande dificuldade está aí: censura é proibida constitucionalmente, eticamente, moralmente, e eu diria até espiritualmente. Mas também não se pode permitir que estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos“. Em alto e bom som, a Suprema Corte anunciou ao país que as leis nele vigentes não servem para proteger o cidadão do poder e dos excessos do Estado. Pelo contrário, defendem a elite que o tomou para si. O cerceamento da liberdade individual, da livre expressão do pensamento, é, sem dúvidas, o caminho para a banalização do mal. Quando o indivíduo não pode manifestar seus pensamentos por medo da perseguição estatal, da clausura, do linchamento virtual e de penas econômicas, a moralidade que passa a vigorar é única e exclusivamente aquela ditada por quem está no poder. Uma sociedade com pensamento massificado, sem capacidade de avaliar criticamente as leis ou decretos governamentais que disciplinam cada aspecto de sua vida, por certo não há de questionar por que a Suprema Corte tem verba para presentear seus parceiros com gravatas personalizadas, enquanto as pessoas comuns esperam por anos na fila do SUS por uma cirurgia. A liberdade de expressão não é um luxo das democracias – é o seu próprio alicerce. Quando o Estado se torna o único intérprete legítimo da verdade e o cidadão perde o direito de questionar, expressar e até mesmo errar em público, estamos às portas de um sistema no qual o mal deixa de ser monstruoso e passa a ser apenas funcional. A censura disfarçada de regulação, a moralidade moldada por conveniência política e a intimidação judicial como mecanismo de silenciamento não são apenas sintomas de autoritarismo – são os instrumentos que o tornam banal. Assim como Eichmann alegava apenas “cumprir ordens“, hoje muitos aceitam calados o avanço de medidas que restringem liberdades individuais, confiando que, se estiverem do lado certo do discurso oficial, não serão atingidos. Esquecem-se de que o arbítrio, uma vez instalado, não conhece limites. O desafio contemporâneo, portanto, não é apenas preservar o direito de falar, mas garantir que nenhuma autoridade – por mais iluminada que se julgue – possa decidir quem pode ou não ser ouvido. O silêncio forçado nunca protegeu a democracia. Pelo contrário, foi sempre o prelúdio de seus períodos mais sombrios. Que não nos falte coragem para resistir – não à crítica, não ao dissenso, mas ao consentimento automático e à abdicação do pensamento, pois é nesse vazio que o mal, travestido de virtude, se acomoda e prospera. Nathália Ceolin Vieira, associada do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)
Narrativas programadas: você sabe como crises políticas são arquitetadas para parecerem espontâneas?

Os protestos deveriam ser expressão legítima da democracia. Mas, em tempos de polarização e tecnologia avançada, surgem movimentos que, sob o verniz da espontaneidade, operam como peças estratégicas em jogos geopolíticos e narrativos. Neste artigo, traço um paralelo entre os protestos antideportação em Los Angeles, que revelam uma estrutura cuidadosamente coordenada para gerar instabilidade pública, e as denúncias recentes, do dia 10 de julho de 2025, do deputado federal Gustavo Gayer sobre uma campanha digital no Brasil com suposto financiamento público e coordenação partidária. Ambos os episódios ilustram como agendas políticas são impulsionadas por operações disfarçadas de mobilização espontânea — e o quanto isso ameaça a integridade do debate público. Veja como técnicas de Operações Psicológicas estão sendo aplicadas. Objetivo estratégico por trás do ativismo Nos protestos em Los Angeles iniciados em 6 de junho, os objetivos vão além da crítica à política de deportações. Trata-se de uma estratégia de guerra psicológica, em que a violência e o caos não são efeitos colaterais, mas meios cuidadosamente escolhidos para esgotar a autoridade governamental, deslegitimar instituições e provocar uma crise de segurança pública. A escalada de confrontos com agentes da lei e a promoção da desobediência civil são peças fundamentais dessa engenharia. No caso brasileiro, a campanha “Defenda o Brasil” como uma ação coordenada entre agências de publicidade financiadas criminosamente com dinheiro público, movimentos sociais, influenciadores e lideranças partidárias. O lançamento foi planejado para ocorrer com precisão cirúrgica, às 8h da manhã do dia 11 de julho, com mensagens uniformes e conteúdo digital previamente formatado — um movimento que se apresenta como militância espontânea, mas que segue padrões de execução profissional. Leia mais: Gabinete do Amor emplaca pautas no trend topics do X no Brasil – Danuzio O “Gabinete do Amor” sob a sombra do “Mensalinho do Twitter” – Danuzio PT instaura o “Gabinete do Amor” – Danuzio Ofensiva organizada e manipulação da percepção Tanto em Los Angeles quanto na campanha brasileira, nota-se uma ofensiva com foco em território simbólico e político. Nos EUA, os manifestantes ocupam espaços físicos e digitais, desafiando a autoridade policial e disseminando narrativas polarizadoras. A operação não é reativa; é ofensiva e busca desgaste institucional. No Brasil, os documentos vazados revelam uma ofensiva digital — com links, imagens e vídeos prontos para serem disseminados em massa, todos com um slogan unificado. Isso elimina a espontaneidade e revela um esforço de manipulação da percepção pública que, visa atacar a oposição e mobilizar artificialmente a base de apoio governista atual. Concentração de meios e eficiência tática Os protestos californianos contam com financiamentos robustos: governo estadual, entidades filantrópicas como a Fundação Ford e conexões internacionais — inclusive com organizações ligadas ao Partido Comunista Chinês. Essa massa de recursos e ativistas é mobilizada estrategicamente para garantir escala e impacto, com o menor custo possível de exposição direta. No Brasil, a denúncia aponta para uma estrutura em consórcio: várias agências recebendo recursos públicos e coordenando a campanha em conjunto. A concentração de esforços e a padronização de mensagens garantem impacto com economia de forças. É uma operação pensada, onde os influenciadores pagos cumprem papel tático dentro de um ecossistema narrativo. Flexibilidade e disfarce: táticas de manobra e segurança Na Califórnia, os grupos ativistas demonstram elevada capacidade de adaptação, capitalizando oportunidades como a indignação com deportações para escalar ações violentas. A articulação entre entidades moderadas e radicais cria uma estrutura fluida, ideal para manobras rápidas e imprevisíveis. A provocação de confrontos com o ICE é meticulosamente escolhida para gerar desgaste e ampliar o alcance midiático do conflito. Na campanha “Defenda o Brasil“, identifica-se um movimento semelhante na comunicação: sob a bandeira emocional de “defesa da pátria“, ocultam-se os verdadeiros fins políticos. A coordenação entre influenciadores e entidades governistas é disfarçada por uma estética de engajamento popular, o que impede a população de perceber a operação como propagandística. O princípio de segurança aqui é manter invisível a mão que orquestra. Surpresa e controle do tempo A surpresa é uma arma poderosa. Nos protestos de Los Angeles, a escalada violenta superou as expectativas das autoridades, gerando reações descoordenadas e reforçando a percepção de crise. O público, diante da intensidade repentina, fica vulnerável à manipulação emocional e midiática. No Brasil, a revelação do timing preciso — 11 de julho, às 8h — para disseminação digital é a chave da estratégia. A coordenação cria um pico artificial de engajamento, alterando percepções de popularidade e força política, o que pode influenciar tanto redes sociais quanto decisões institucionais. O fator surpresa reside na mudança súbita do ambiente digital, transformando o debate público num campo de batalha virtual. Unidade de comando e simplicidade na mensagem Nos EUA, dezenas de organizações atuaram sob uma estrutura coordenada, sugerindo uma centralização de comando e alinhamento estratégico. A diversidade de grupos é equilibrada por uma unidade de propósito que legitima ações mais radicais sob um manto comum de justiça social. No Brasil, a campanha denunciada segue a mesma lógica. A frase “Defenda o Brasil” é simples, emocional e fácil de reproduzir. Com isso, elimina-se qualquer ambiguidade e se cria uma narrativa que pode ser executada por múltiplos atores, de forma simultânea, garantindo adesão e coerência discursiva. A simplicidade da mensagem é parte do plano, permitindo que ações sofisticadas sejam escondidas por frases impactantes. A falsa espontaneidade como ferramenta de desestabilização Protestos são essenciais, mas sua credibilidade depende da autenticidade. Os casos de Los Angeles e da campanha “Defenda o Brasil” revelam que nem toda manifestação é espontânea — algumas são cuidadosamente coreografadas para influenciar emoções, provocar crises e manipular decisões. A sociedade democrática, para se proteger, precisa aprender a distinguir mobilizações legítimas de operações montadas. A engenharia de crises, seja nas ruas ou nas redes, transforma o cidadão em alvo de campanhas narrativas desenhadas para parecer orgânicas. E quando a percepção se torna campo de batalha, é a própria democracia que fica em risco.
Defesa nacional do Brasil: a urgência de um orçamento compatível com as ameaças existentes

Em um cenário global de aparente caos e conflitos bem reais, o Brasil enfrenta um imperativo urgente: a necessidade de alocar recursos orçamentários suficientes e, acima de tudo, previsíveis para a sua Defesa. Longe de ser uma preocupação exclusivamente militar, a Defesa abrange a segurança ampliada do país, garantindo sua soberania, protegendo os interesses dos cidadãos e salvaguardando a pátria contra qualquer ameaça. Esta é uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira, conforme estabelecido em documentos redigidos pelo governante de turno e aprovados pelos representantes eleitos do Congresso, a saber: a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa. Os gastos militares têm se ampliado continuamente nos últimos dez anos em todas as regiões do planeta – com exceção da África Subsaariana –, com um aumento de quase 10% em 2024. O nosso próprio entorno estratégico não escapou à regra: a Guiana elevou seus investimentos em Defesa em impressionantes 78%, impulsionada pela ameaça da Venezuela, que almeja dois terços de seu território. Contexto internacional O motivo é claro: uma guerra na Europa, cuja solução não aparece no horizonte; o incessante conflito no Oriente Médio, que alcançou um novo patamar com a operação Martelo da Meia-Noite; a guerra de quatro dias entre Índia e Paquistão – duas potências nucleares; rotineiros golpes militares em países do Sahel, alijando colonizadores antigos por novos; e, por fim, a latente ameaça de uma guerra no leste asiático pelo controle de Taiwan. Aqui na América do Sul, a Venezuela também foi notícia ao receber aeronaves estratégicas russas para exercícios militares e por, suspostamente, contratar mercenários do grupo Wagner para garantir Nicolas Maduro no poder há alguns anos. O Brasil, detentor da maior biodiversidade do mundo na Amazônia, vastas reservas de água doce e minerais estratégicos como Elementos de Terras Raras (REE, na sigla em inglês), além de forte exportador de segurança alimentar para o planeta, é um ator importante em todo esse tabuleiro. Além das ameaças tradicionais de conflito bélico, nosso país enfrenta ameaças não convencionais, como: Ressalte-se que cabe ao Exército Brasileiro, por meio de seu Comando de Defesa Cibernética, atuar 24 horas por dia, 7 dias por semana, na proteção de infraestruturas críticas contra ataques no campo cibernético. Por que investir em Defesa? A defesa nacional funciona como uma “apólice de seguro” para o país, garantindo as capacidades necessárias para contrapor situações imprevistas. Um exemplo claro é a invasão da Ucrânia, que pegou muitos de surpresa, incluindo o Exército Alemão, que se vê sem as ferramentas necessárias para uma eventual guerra contra a Rússia. A sociedade brasileira, portanto, precisa “pagar o seguro” para que as Forças Armadas tenham condições de atuar quando necessário. Apesar dessa realidade premente, o Brasil investe modestos 1,1% do PIB em Defesa, posicionando-se aquém da média global de 2,5%, e de vizinhos como Colômbia (3%) e Peru (2,4%). Essa substancial defasagem orçamentária e a falta de previsibilidade têm consequências diretas e alarmantes para a capacidade de defesa do país: Qual é a solução? Encontra-se no Congresso Nacional a PEC nº 55/2023, de autoria do Senador Portinho (PL-RJ) e com relatoria do Senador Randolfe Rodrigues (PT-AP). O texto original da PEC visa destinar 2% do PIB em gastos com Defesa. Sabendo das dificuldades de aprovar a proposta – devido à situação fiscal do país – o Ministério da Defesa e as Forças Armadas defendem um texto alternativo: 2% da RCL (Receita Corrente Líquida) para as despesas discricionárias de Defesa. O que isso significa? Primeiramente, RCL, de forma simplificada, é a diferença entre as diversas receitas tributárias e as transferências constitucionais a estados e municípios, além dos gastos com previdência e assistência social. Ou seja, é uma métrica que leva em consideração a capacidade arrecadatória do ente federativo sem impactar suas obrigações de despesas obrigatórias mais prementes. Atualmente, a RCL da União gira em torno de R$ 1,4 trilhão. Em segundo lugar, despesas discricionárias são aquelas que o gestor público tem a liberdade de não realizá-las. Ou seja, podem ser contingenciadas para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso do orçamento de Defesa, essas despesas são responsáveis pelo pagamento de água e luz nos quartéis, pela aquisição de munições, combustíveis e peças para manutenção de viaturas, bem como pelos investimentos dos Projetos Estratégicos de Defesa. Em 2025, o orçamento total para todas essas despesas é de R$ 12,4 bilhões (ou 0,8% da RCL). O que o país ganha com esse investimento? Caso o texto proposto pelo Ministério da Defesa para a PEC 55 seja aprovado, as Forças Armadas disporiam de R$ 28 bilhões para suas despesas discricionárias. E o que elas fariam com todo esse recurso? Mas o investimento em Defesa não vai apenas para as Forças Armadas – o que já beneficia o cidadão brasileiro (lembre-se da apólice de seguro) –, mas movimenta a economia do país. O setor de Defesa e Segurança Pública movimentou 4,8% do PIB no ano passado, gerando 2,9 milhões de empregos, muitos deles qualificados que pagam bons salários. Um estudo de 2015 encomendado pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa (ABIMDE) à FIPE indica que a cada R$ 1 investido no setor retorna R$ 0,50 apenas em tributos. Além disso, R$ 10 milhões/ano são capazes de gerar 170 empregos diretos e 350 indiretos. O Brasil, embora esteja em um subcontinente sul-americano que não vê guerras entre Estados desde a década de 1990, convive com o paradoxo de ser uma das áreas mais violentas do mundo devido ao crime organizado. Além disso, tensões latentes, como a da Venezuela e Guiana, exigem atenção. Não deveríamos tentar prever onde iniciará a próxima “World War“. Na verdade, cada brasileiro deve enfrentar a dura realidade de viver em uma “Worldwide Warfare” – um ambiente de múltiplas guerras conflagradas simultaneamente em todo o globo. Essa realidade não está longe de acontecer, e por isso o Brasil deve estar preparado. Conscientizar a população sobre a importância da Defesa é fundamental para que seus representantes no Congresso Nacional atribuam a devida prioridade a
O verdadeiro significado do 8 de janeiro de 2023

Toda comunidade política necessita de mitos fundadores que justifiquem, para além da mera necessidade financeira e administrativa, o poder e a independência da própria comunidade. Historicamente, os mitos se situavam no limiar do sobrenatural e do mágico, justificados numa antiga autoridade social cujas origens já não podiam ser rastreadas e continuados pela poderosa propensão do humano à repetição mimética das tradições que lhe ajudaram a sobreviver. O mundo moderno e do Iluminismo, contudo, não mais aceita mitos puramente mágicos – apenas parcialmente mágicos. É o caso da democracia, cuja justificativa jaz numa abstrata “vontade do povo” ou “vontade geral“, que, a rigor, não pode ser empiricamente determinada. Todos os regimes modernos ainda se fundamentam em mitos cuja essência beira o místico e o surreal: o “universalismo proletário“, a “raça superior“, a “nação proletária“, o “destino manifesto“, a “vontade do povo” etc. Malgrado suas guinadas “racionais“, a linha demarcatória do real e do imaginário nunca deixou de existir no mundo da política — apenas teve suas proporções alteradas. O Brasil, contudo, foi recentemente alvo de uma nova conjuração mística – o “brincar com mágica“, que Eric Voegelin alertava ser a tarefa principal dos demagogos modernos – devido aos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. A baderna descontrolada daquele dia fatídico, com suas impressionantes imagens de vandalismo e zombaria dos símbolos republicanos, penetrou fundo na mente de agentes públicos e administrativos do Estado brasileiro. Não estou falando de política partidária, o PT ou o que o seja, não: agentes públicos e funcionários do Estado brasileiro, previamente responsáveis por manter o funcionamento da máquina burocrática e as instituições do Estado de direito, tornaram-se militantes políticos que se autoarrogaram a função de salvar a democracia, extrapolando quaisquer funções delimitadas constitucionalmente. Esses agentes políticos passaram a perceber uma realidade lúgubre e perigosa, onde o regime político que lhes garante o emprego estaria sitiado internamente por um inimigo insidioso e corruptor: a “extrema-direita” golpista e fascista que se articula através das redes sociais. Embora, factualmente, não tenha existido tentativa de golpe, a narrativa do mito não necessita ser factualmente correta — ou sequer baseada em fatos. Os meros atos de vandalismo popular — chocantes em si mesmos — forneceram o material interpretativo de que agentes políticos do sistema se utilizaram para confeccionar esse mito. Baseado nessa interpretação mitológica dos acontecimentos, o sistema político se transformou em algo que já havia dado sinais anteriormente: uma democracia politicamente militante. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, antes meras cortes de controle de constitucionalidade e de apuração de litígios eleitorais, tornaram-se, através de vários despachos e decisões interlocutórias, um quarto poder: o moderador, capaz de suspender atos do Poder Legislativo e pautar o ritmo das mudanças políticas e legislativas. Do mesmo modo, suas decisões se tornaram novos projetos de leis enviados apenas para chancela do Poder Legislativo. A utilização do 8 de janeiro como um novo mito fundador até mesmo contou com os julgamentos de espetáculo, com suas prisões preventivas abusivas, penas desproporcionais e bodes expiatórios imolados no tribunal inaugural do novo regime. O ápice emocional dos julgamentos serve como procedimento catártico para uma desintoxicação do “verme” autoritário da “extrema-direita” que havia infectado a democracia. Essa situação promoveu absurdos de desproporcionalidade jurídicas gritantes: penas cavalares por atos de vandalismo, enquanto assassinos e estupradores conseguem sair da cadeia em poucos anos através do abjeto regime de transição de pena do Código de Processo Penal. Essa situação, contudo, não causa vergonha aos agentes políticos conduzindo a limpeza moral do Estado brasileiro: o assassínio sistemático de brasileiros nas ruas das cidades de Norte a Sul não é uma preocupação tão relevante quanto salvar a democracia e o ato ritualístico de votar na urna eletrônica. Uma nova era surgiu. Curiosamente, a nova configuração de poderes diminuiu a autonomia do Poder Legislativo, o poder que encarna institucionalmente a vontade do povo e dos Estados — o poder mais “democrático“, podemos dizer. A nova democracia, portanto, limitou seu mito fundador originário em prol de um regime militante, onde agentes políticos sem respaldo do voto popular exercem o poder de ditar os rumos da criação legislativa. A própria e clássica configuração dos três poderes oriunda de Montesquieu no século XVII foi desvirtuada, concentrando uma clara supremacia no Poder Judiciário como o baluarte da defesa de todo o sistema. A frase: “O século XIX fora o século do Legislativo; o século XX, do Poder Executivo; e agora, o século XXI será do Poder Judiciário” se transformou numa realidade brutal diante dos olhos de todos. Um novo regime político foi inaugurado em 8 de janeiro de 2023, e suas transformações são profundas, embora ainda ostentem a aparência das antigas formalidades legais, como os dispositivos constitucionais e um semblante do direito de defesa — corroídos e relativizados sistematicamente —, tudo em defesa do próprio sistema. Algum dia, talvez, os próprios agentes políticos conduzindo o processo se toquem de que a essência do regime democrático e do Estado de direito está na garantia de seus princípios, e não na criação de exceções salvíficas.
O tabuleiro está a postos: as sanções sobre o Brasil eram uma jogada previsível

O presidente Donald Trump estabeleceu uma alíquota de 50% sobre a exportação de qualquer produto brasileiro. Nas razões dessa medida, chamaram a atenção o discurso voltado a questões predominantemente políticas. Em carta direcionada ao presidente Lula, Jair Bolsonaro é citado como um líder respeitado, enquanto o Supremo Tribunal Federal, mais notadamente na figura do ministro Alexandre de Moraes, é abordado como o responsável por uma verdadeira “Caça às Bruxas” que deve acabar. O Brasil recebeu a tarifa mais alta do mundo. Logo em seguida, aparecem Mianmar, Laos e Tailândia, que são conhecidos por terem um sistema político instável. Assim, Trump passa ao mundo a ideia de que o Brasil está inserido em conjuntura dotada de democracia duvidosa. Contudo, vale lembrar que o poder político e o econômico costumam dar as mãos, ou seja, acreditar que a medida implementada é puramente ideológica e que, portanto, seria possível ignorar o restante que vem nesse pacote soa ingênuo. Em jogo há muito mais. O Brasil tem potencial agrícola insuperável, condizente com sua extensão territorial permeada por múltiplas fronteiras, e um mercado consumidor de mais de 200 milhões de pessoas, condizente com a eterna promessa de que o desenvolvimento está logo ali, dobrando a esquina. Tudo isso demonstra a relevância na geopolítica e explica o porquê de o país não passar despercebido. O panorama contemporâneo inspira tensão. Desde a Segunda Guerra Mundial, não se verificam potências nucleares diretamente envolvidas em batalhas – talvez não estejamos a perceber que na verdade a Terceira Guerra já pode ter começado. Nesse cenário, surgem dois grandes grupos: o primeiro é formado principalmente por Israel, Estados Unidos e países da OTAN, enquanto o segundo é formado principalmente por China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Como é comum em polarizações, o mundo cobra uma posição, e o lado em que o Brasil se encontra é rapidamente compreendido: está alinhado com os países ditatoriais. Os discursos e as práticas adotadas pelo governo dão sinais claros. O STF atua na mesma frequência, quando, dentre outras medidas, restringe a liberdade de expressão e derruba redes sociais sem o devido processo legal. Recentemente, os ministros da Corte restringiram a liberdade de expressão, quando reescreveram regras consubstanciadas no Marco Civil da Internet, criando um contexto de vulnerabilidade das plataformas, que tiveram ampliadas as possibilidades de serem responsabilizadas. O Brasil ainda pode ser concebido como a maior democracia da América Latina? São muitos os acontecimentos que diminuem a relevância da política externa brasileira e colocam em dúvida a solidez da democracia. O presidente Lula, violando a moralidade e a impessoalidade, nomeou o seu advogado pessoal para o STF. Também criou impasses diplomáticos com Israel, recebeu no Rio de Janeiro dois navios de guerra iranianos – e tudo isso aconteceu depois de ter sido estranhamente saudado pelo líder do grupo terrorista Hamas. Os rumos políticos causam estranheza perante os ideais constitucionais brasileiros, porque a direção tomada vai ao encontro do grupo que não ostenta necessariamente pluripartidarismo, alternância de poderes, liberdade de expressão, respeito aos direitos das mulheres e do grupo LGBT. Desse modo, o Brasil despreza a própria Constituição Federal, quando se coloca ao lado de quem ignora a importância dos direitos humanos. A quem cabe a responsabilidade pela ofensiva americana A postura do atual governo já demonstrava há algum tempo os sinais de tragédia anunciada. As trapalhadas diplomáticas foram muitas e levaram a esse desfecho – e não poderia ser diferente. Lula provocou Trump pessoalmente e se colocou contra os interesses americanos em diferentes oportunidades. Lula associou Trump ao nazismo, defendeu a ideia de desdolarizar o comércio global, acusou Israel de genocídio, deu apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia, recebeu o ditador Maduro e visitou a condenada Cristina Kirchner e pediu pela sua liberdade. Por esses motivos, não há dúvidas de que o presidente Lula criou as condições perfeitas para a investida que ora ocorre, quando escolheu provocar uma potência. O insucesso era previsível. O momento certo para a jogada O revide americano, que já era certo, teve a perspicácia de esperar o momento em que os muitos motivos ideológicos já estavam escancarados aos olhos do mundo. Assim, a jogada surge em momento propício para o combate de questões políticas e econômicas ao mesmo tempo, uma vez que o volume de negociações que o Brasil tem com a China pode ficar ainda maior, caso saia do papel o projeto voltado para a criação de uma ferrovia que prevê a conexão do território brasileiro ao Oceano Pacífico, passando pelo Porto de Chancay, no Peru. O crescimento da influência chinesa gera incômodo aos americanos, uma vez que nada impede que a parceria econômica com os chineses se transforme em laços políticos e militares. É preciso lembrar que, ao olhar para a Venezuela, os Estados Unidos veem bases militares da Rússia. No mesmo período em que a tarifa foi imposta por Trump, as pesquisas mostram que Jair Bolsonaro, alinhado ideologicamente com os valores americanos, ganharia de Lula. Além disso, o encontro dos BRICS não teve o efeito esperado, porque, além de não ter contado com presidentes, nenhuma medida impactante foi divulgada. Portanto, é inegável que Trump mexe as peças em momento oportuno, na medida em que Lula se encontra cambaleando entre seus eleitores e, na política externa, sofre com nítida perda de capital político, uma vez que atualmente não subsiste retórica que consiga esconder o seu flerte com ditaduras. As repercussões no quintal tupiniquim O governo brasileiro pode ignorar a jogada americana e buscar pretender alguma espécie de contra-ataque. No entanto, é preciso lembrar que o Brasil conta com um Congresso que deseja ser reeleito, e a ele cabe dar explicações a seus eleitores. À sua disposição, veem-se mecanismos constitucionais para fiscalizar/pressionar o Executivo e o Judiciário. Não se sabe se os Estados Unidos mandarão um porta-aviões ao Lago Paranoá – e talvez nem seja preciso tanto para impactar nos rumos do Brasil. O panorama é de extravagância: enquanto Lula não abre mão de seus regozijos ideológicos, o cidadão comum sente no bolso. O agronegócio


