O verdadeiro significado do 8 de janeiro de 2023

Toda comunidade política necessita de mitos fundadores que justifiquem, para além da mera necessidade financeira e administrativa, o poder e a independência da própria comunidade. Historicamente, os mitos se situavam no limiar do sobrenatural e do mágico, justificados numa antiga autoridade social cujas origens já não podiam ser rastreadas e continuados pela poderosa propensão do humano à repetição mimética das tradições que lhe ajudaram a sobreviver. O mundo moderno e do Iluminismo, contudo, não mais aceita mitos puramente mágicos – apenas parcialmente mágicos. É o caso da democracia, cuja justificativa jaz numa abstrata “vontade do povo” ou “vontade geral“, que, a rigor, não pode ser empiricamente determinada. Todos os regimes modernos ainda se fundamentam em mitos cuja essência beira o místico e o surreal: o “universalismo proletário“, a “raça superior“, a “nação proletária“, o “destino manifesto“, a “vontade do povo” etc. Malgrado suas guinadas “racionais“, a linha demarcatória do real e do imaginário nunca deixou de existir no mundo da política — apenas teve suas proporções alteradas. O Brasil, contudo, foi recentemente alvo de uma nova conjuração mística – o “brincar com mágica“, que Eric Voegelin alertava ser a tarefa principal dos demagogos modernos – devido aos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. A baderna descontrolada daquele dia fatídico, com suas impressionantes imagens de vandalismo e zombaria dos símbolos republicanos, penetrou fundo na mente de agentes públicos e administrativos do Estado brasileiro. Não estou falando de política partidária, o PT ou o que o seja, não: agentes públicos e funcionários do Estado brasileiro, previamente responsáveis por manter o funcionamento da máquina burocrática e as instituições do Estado de direito, tornaram-se militantes políticos que se autoarrogaram a função de salvar a democracia, extrapolando quaisquer funções delimitadas constitucionalmente. Esses agentes políticos passaram a perceber uma realidade lúgubre e perigosa, onde o regime político que lhes garante o emprego estaria sitiado internamente por um inimigo insidioso e corruptor: a “extrema-direita” golpista e fascista que se articula através das redes sociais. Embora, factualmente, não tenha existido tentativa de golpe, a narrativa do mito não necessita ser factualmente correta — ou sequer baseada em fatos. Os meros atos de vandalismo popular — chocantes em si mesmos — forneceram o material interpretativo de que agentes políticos do sistema se utilizaram para confeccionar esse mito. Baseado nessa interpretação mitológica dos acontecimentos, o sistema político se transformou em algo que já havia dado sinais anteriormente: uma democracia politicamente militante. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, antes meras cortes de controle de constitucionalidade e de apuração de litígios eleitorais, tornaram-se, através de vários despachos e decisões interlocutórias, um quarto poder: o moderador, capaz de suspender atos do Poder Legislativo e pautar o ritmo das mudanças políticas e legislativas. Do mesmo modo, suas decisões se tornaram novos projetos de leis enviados apenas para chancela do Poder Legislativo. A utilização do 8 de janeiro como um novo mito fundador até mesmo contou com os julgamentos de espetáculo, com suas prisões preventivas abusivas, penas desproporcionais e bodes expiatórios imolados no tribunal inaugural do novo regime. O ápice emocional dos julgamentos serve como procedimento catártico para uma desintoxicação do “verme” autoritário da “extrema-direita” que havia infectado a democracia. Essa situação promoveu absurdos de desproporcionalidade jurídicas gritantes: penas cavalares por atos de vandalismo, enquanto assassinos e estupradores conseguem sair da cadeia em poucos anos através do abjeto regime de transição de pena do Código de Processo Penal. Essa situação, contudo, não causa vergonha aos agentes políticos conduzindo a limpeza moral do Estado brasileiro: o assassínio sistemático de brasileiros nas ruas das cidades de Norte a Sul não é uma preocupação tão relevante quanto salvar a democracia e o ato ritualístico de votar na urna eletrônica. Uma nova era surgiu. Curiosamente, a nova configuração de poderes diminuiu a autonomia do Poder Legislativo, o poder que encarna institucionalmente a vontade do povo e dos Estados — o poder mais “democrático“, podemos dizer. A nova democracia, portanto, limitou seu mito fundador originário em prol de um regime militante, onde agentes políticos sem respaldo do voto popular exercem o poder de ditar os rumos da criação legislativa. A própria e clássica configuração dos três poderes oriunda de Montesquieu no século XVII foi desvirtuada, concentrando uma clara supremacia no Poder Judiciário como o baluarte da defesa de todo o sistema. A frase: “O século XIX fora o século do Legislativo; o século XX, do Poder Executivo; e agora, o século XXI será do Poder Judiciário” se transformou numa realidade brutal diante dos olhos de todos. Um novo regime político foi inaugurado em 8 de janeiro de 2023, e suas transformações são profundas, embora ainda ostentem a aparência das antigas formalidades legais, como os dispositivos constitucionais e um semblante do direito de defesa — corroídos e relativizados sistematicamente —, tudo em defesa do próprio sistema. Algum dia, talvez, os próprios agentes políticos conduzindo o processo se toquem de que a essência do regime democrático e do Estado de direito está na garantia de seus princípios, e não na criação de exceções salvíficas.
Sionismo é Nazismo?
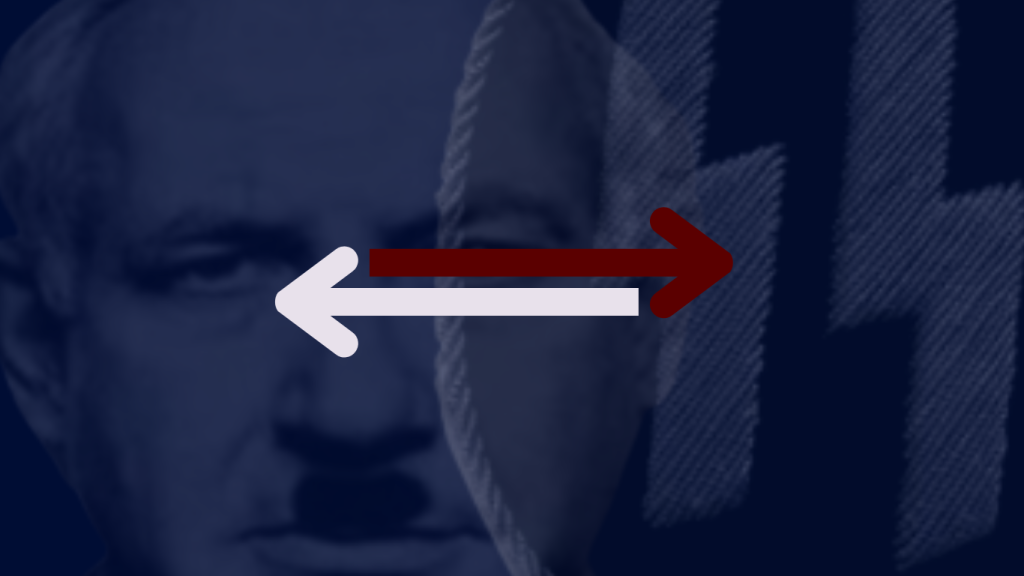
Nas redes sociais, é comum encontrar postagens que equiparam o sionismo ao nazismo, com o objetivo de insultar Israel, acusado de práticas como limpeza étnica em Gaza e de suposta colaboração com os nazistas por meio de acordos como o Haavara. Essa comparação, porém, é válida? Este texto analisa os argumentos apresentados e verifica se há fundamento na equiparação entre sionismo e nazismo, com base no documento fornecido. O sionismo político, conforme descrito, é a crença na possibilidade de existência e manutenção de um Estado judaico, fundado e mantido por judeus. Essa é a essência do sionismo: a convicção de que um Estado caracteristicamente judaico é viável. Por outro lado, o nazismo tinha como núcleo o antissemitismo, uma ideologia que considerava os judeus uma ameaça existencial à humanidade, especialmente à suposta superioridade da raça ariana. Para avaliar a comparação, é necessário examinar se o pensamento antissemita nazista se alinha com os fundamentos do sionismo. O antissemitismo era central ao nazismo O antissemitismo era central ao nazismo. Alfred Rosenberg, um dos principais ideólogos nazistas, desenvolveu a teoria de uma conspiração judaica global, inspirado pelo documento falso Protocolos dos Sábios de Sião. Segundo Rosenberg, os judeus promoviam sua dominação por meio do bolchevismo e do sionismo internacional. Ele acreditava que os judeus não tinham capacidade nem intenção de criar um Estado no sentido europeu, mas usariam um suposto “Estado” judaico para expandir sua exploração: “devido a condição de explorador da cultura ariana, o ‘Estado’ judeu apenas serviria para ampliar a exploração e avançar a dominação do mundo“.[1] Hitler, influenciado por Rosenberg, adotou uma visão social-darwinista que enfatizava a superioridade da raça ariana, determinada por fatores genéticos: “Em primeiro lugar, o valor inteiro de um povo, que passa de geração em geração como herança e genótipo – valor que só sofre alteração quando o portador dessa herança, o próprio povo, muda em termos de sua composição genética. É certo que os traços individuais de caráter, as virtudes individuais e os vícios individuais sempre se repetem nos povos enquanto sua natureza interior, sua composição genética, não sofre nenhuma mudança essencial“.[2] Para Hitler, os arianos desenvolveram características altruístas e laboriosas devido às duras condições do Norte: “Podemos ver essa dificuldade no início da pré-história, sobretudo na parte Norte do mundo, naqueles enormes desertos de gelo onde apenas a existência mais escassa era possível. Aqui, os homens foram forçados a lutar por sua existência, por coisas que estavam, no sorridente Sul, disponíveis sem trabalho e em abundância. O Norte forçou os homens a continuarem suas atividades de produção de roupas e construção de residências. Primeiro, eram cavernas simples, depois cabanas e casas. Em suma, ele criou um princípio, o princípio do trabalho“.[3] Claramente, para Hitler, o ariano desenvolveu uma genética “altruísta“, onde o indivíduo ariano prontamente se sacrificava pela sua coletividade e amava o trabalho pelo trabalho, motivo pelo qual o capacitava para criar uma cultura e fundar e manter Estados. Tal juízo social-darwinista foi igualmente reforçado no infame Mein Kampf. O ariano se desenvolveu para trabalhar e criar comunidades, cultura e Estados, e o judeu para furtar, enganar e explorar o trabalho e a cultura do ariano. A antítese Em contraste, Hitler via os judeus como a antítese dos arianos. Ele acreditava que os judeus, evoluídos em condições diferentes, desenvolveram traços egoístas e parasitários: “O ariano entende o trabalho como a base para a preservação da comunidade do povo, o judeu o vê como um meio de explorar outros povos… Não importa se esse indivíduo judeu é ‘decente’ ou não. Ele traz dentro de si os traços de caráter que a natureza lhe deu, e nunca pode se livrar disso“.[4] Hitler, claramente, cria uma oposição irreconciliável entre a raça ariana e a judaica porque o que não apenas as separava, mas as colocava numa rota de colisão, eram as respectivas características genéticas de cada uma, desenvolvidas durante milhares de anos e, por isso mesmo, inexpugnáveis. O ariano se desenvolveu para trabalhar e criar comunidades, cultura e Estados, e o judeu para furtar, enganar e explorar o trabalho e a cultura do ariano. O mito histórico de Hitler, motivado pela ideologia racial, sobre a missão cultural da humanidade ariana encontrou sua complementação no contramito da “missão mundial” judaica. De acordo com as características essenciais atribuídas por Hitler ao judaísmo, essa “missão” da raça judaica, no entanto, não poderia ter um caráter de construção cultural ou formação de Estados, mas apenas um caráter de destruição cultural e de subversão dos Estados. Para Hitler, portanto, o judaísmo se destacava por uma falta de todas as características que qualificavam a raça ariana para a atividade cultural e a criatividade intelectual: incapacidade de pensar de forma inovadora; interpretação do fenômeno do “trabalho” como uma mera tarefa material para satisfazer necessidades e interesses pessoais; tendência a um estilo de vida “parasitário” às custas de outras nações; — esses eram os traços de caráter preferencialmente citados por Hitler para caracterizar a “contra-raça” judaica.[5] É uma evolução considerável da mera “conspiração judaica” como percebida por Rosenberg ou outros antissemitas vulgares, mas uma visão histórica dualista na qual o “bem” e o “mal” encontravam-se perfeitamente delineados nas duas raças antitéticas em conflito. O arianismo e o judaísmo estavam interligados de forma complementar, assim como ação e reação, tese e antítese, formando um curso histórico que obteve “sua verdadeira dinâmica por meio da relação dialética entre dois princípios mundiais antagonistas [arianismo x judaísmo]”, cuja resolução se daria apenas com a “indubitável aniquilação do envenenador povo judeu“.[6] O pensamento antissemita de Hitler alcançou seu ápice numa interpretação histórica na qual as duas raças antitéticas estavam em rota de colisão inevitável. De um lado, os arianos, a raça criadora da cultura, da civilização e mantenedora do Estado; do outro, os judeus, os exploradores egoístas que dependiam da espoliação dos bens culturais arianos para sobreviverem. O desenlace desse embate apocalíptico decidiria o destino da civilização humana: caso os arianos perdessem, a civilização e a cultura estariam perdidas. Incompatíveis Agora, tendo em mente a base do radical, social-darwinista


